Lembro quando comecei a primeira onda do Projeto Uno – pesquisa que realizo pela behavior, minha empresa – em 2010, tendo como foco as mulheres. Queria compreender em profundidade o que elas sentiam e entendiam sobre ser mulher num país como o Brasil. A época era propícia, porque estava se iniciando a discussão massificada sobre o empoderamento feminino. Lembro que, enquanto ia compreendendo crença a crença o que levava a nós, mulheres, construir o que é ser mulher, ia ficando furiosa.
Lembro o choque que tive quando entendi que a narrativa que determina o que é ser mulher, construída séculos atrás por homens brancos, europeus e possivelmente heterossexuais, ainda tinha um profundo impacto na vida das mulheres. Em pleno século XXI, com todos os avanços e conquistas femininas. Parecia que havia dois mundos femininos convivendo muitas vezes na mesma pessoa. Um deles era dos grandes movimentos com as mulheres indo para as faculdades, crescendo nas empresas, ganhando cada vez mais seu lugar e admiração no espaço público. E o outro, no íntimo de muitas delas, carregava as velhas crenças da narrativa machista.
Nós, mulheres, tivemos que lutar muito para chegar onde estamos. É um triunfo que devemos celebrar, mesmo, com toda a desigualdade que ainda existe. Muitas foram – e são – mortas por essa luta. Graças às loucas, duras e agressivas feministas que vieram antes de nós, e que tiveram a valentia de exagerar e extrapolar nas formas de reivindicar, é que todas as mulheres do Ocidente, sem exceção, podem viver como vivem. Compreendi que sem a força do exagero não se quebram padrões rigidamente estabelecidos. Gratidão é o mínimo que podemos sentir quando compreendemos isso.
Tomada pelo sentimento de injustiça e pela dor que sentia das entrevistadas, olhei para minha vida e tentei matematicamente trazer equidade de direitos para a minha relação a dois. Descobri na prática como é difícil, para um casal, tocar nesse tipo de tema, porque algo em nós, mulheres, diz que não será possível obter a justiça. Parece que você está tentando explicar algo óbvio que o outro devia saber, mas não sabe. E você acha que finge não saber. Como toca em nosso íntimo, é difícil ter uma conversa calma e equilibrada.
Foi quando, propositalmente, deixei de tratar meu marido com o cuidado e atenção que tinha antes. Após dois anos de estudo, tinha entendido que havia algo nesse tipo de “cuidado” que colocava os homens como incapazes. Uma estratégia feminina que dava à mulher o sentimento de superioridade e de ser indispensável. Talvez tenha sido a vingança feminina no inconsciente coletivo que fez as mulheres tratarem seu companheiro assim em tarefas do cotidiano familiar e social.
Cheguei a expressar isso em casa. Não queria alguém menor ao meu lado. Nem alguém superior. Queria buscar uma troca justa de forças, habilidades e tarefas. E que as coisas chatas fossem também divididas. O conceito e conteúdo estavam corretos; meu marido compreendeu e logo em seguida se predispôs a mudar as rotinas caseiras. Sei que conto com um marido que, assim como eu, estuda e se dedica ao autodesenvolvimento. Isso ajuda muito. O que foi errada foi a forma com que fui colocando as coisas.
Havia dureza. Uma dureza compreensível para quem tomava consciência do doloroso e dramático que pode ser o machismo para boa parte das mulheres no Brasil. Não era mais só um conceito que discutia abstratamente. Quando você compreende que o machismo é um sistema que oprime mulheres e homens, e conhece in loco pessoas oprimidas, sofrendo, você muda rapidamente de opinião e de postura.
Só que a dureza numa relação amorosa machuca e estressa. Especialmente quem não foi criado com ela no seu ambiente familiar. Para quem viveu nessa situação a vida inteira, a casca grossa já está formada. Não era nosso caso. O bom desse período de dureza é que também havia lucidez e o genuíno desejo de ampliar a consciência através do conhecimento. Ambos fomos melhorando. Novos limites foram criados. Novos acordos realizados. As atividades foram redistribuídas. Não matematicamente, porque logo compreendi que isso não é possível nas relações amorosas. As redistribuições de tarefas e responsabilidades foram organizadas em base no tempo e disponibilidade.
Por um bom tempo, vivi na tensão de estar novamente cedendo. As mulheres que resolvem se posicionar na busca de maior igualdade de direito carregam um certo “susto” na atitude. Há uma tensão. Como se o medo de serem abusadas novamente estivesse sempre à espreita. Levei um bom tempo para entender isso. Para acalmar meu coração. Para entender que, sendo ambos oriundos de uma cultura machista, nem sempre era a má vontade que fazia as coisas retornarem algumas casas para trás.
Mesmo com todos esses avanços, demorei em me autodefinir como feminista. Os dois mundos paralelos que mencionei acima atuavam em mim. Como se uma parte de mim não gostasse do termo e tivesse receio de como poderia impactar os outros. Inclusive – ou especialmente – as mulheres, que parecem ser as primeiras a jogar pedras em quem luta por elas. Me posicionava como tal, mas não me autodefinia como tal.
Os anos foram passando e meu coração foi ficando calmo. Compreendi que o equilíbrio das forças é possível, embora precise ser sempre relembrado. Para ambos. Foi quando aceitei que cuidar, para mim, é um verbo importante. E que fazer isso com uma das pessoas que mais amo não me colocava no lugar de “cuidadora” de um incapaz. Ou em um lugar de subordinação. Lugar que nunca ocupei na minha relação amorosa, importante dizer. Assim, sem medo de seguir modelos preestabelecidos, retomei um lado genuíno em mim. Hoje amo cuidar do meu marido e de nosso lar como antigamente, sem o peso da incerteza de isso ser justo ou não. Assim como ele cuida do nosso lar, da nossa relação, de mim. A dureza se foi, a doçura voltou e a leveza se reinstalou. Agora, sim, posso me autodefinir como feminista. Sem medos, sem preconceitos, sem estereótipos. Porque graças às outras feministas – e agora a mim – mulheres podem, se quiserem, ficar em casa. Sem que seja isso uma obrigação e um único destino.

Nany Bilate é pensadora intuitiva e pesquisadora. Seus estudos e textos são focados na transição de valores e crenças da nossa sociedade. E sua interferência nas identidades feminina e masculina contemporâneas.




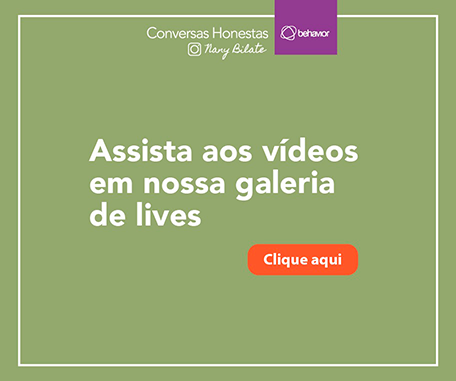
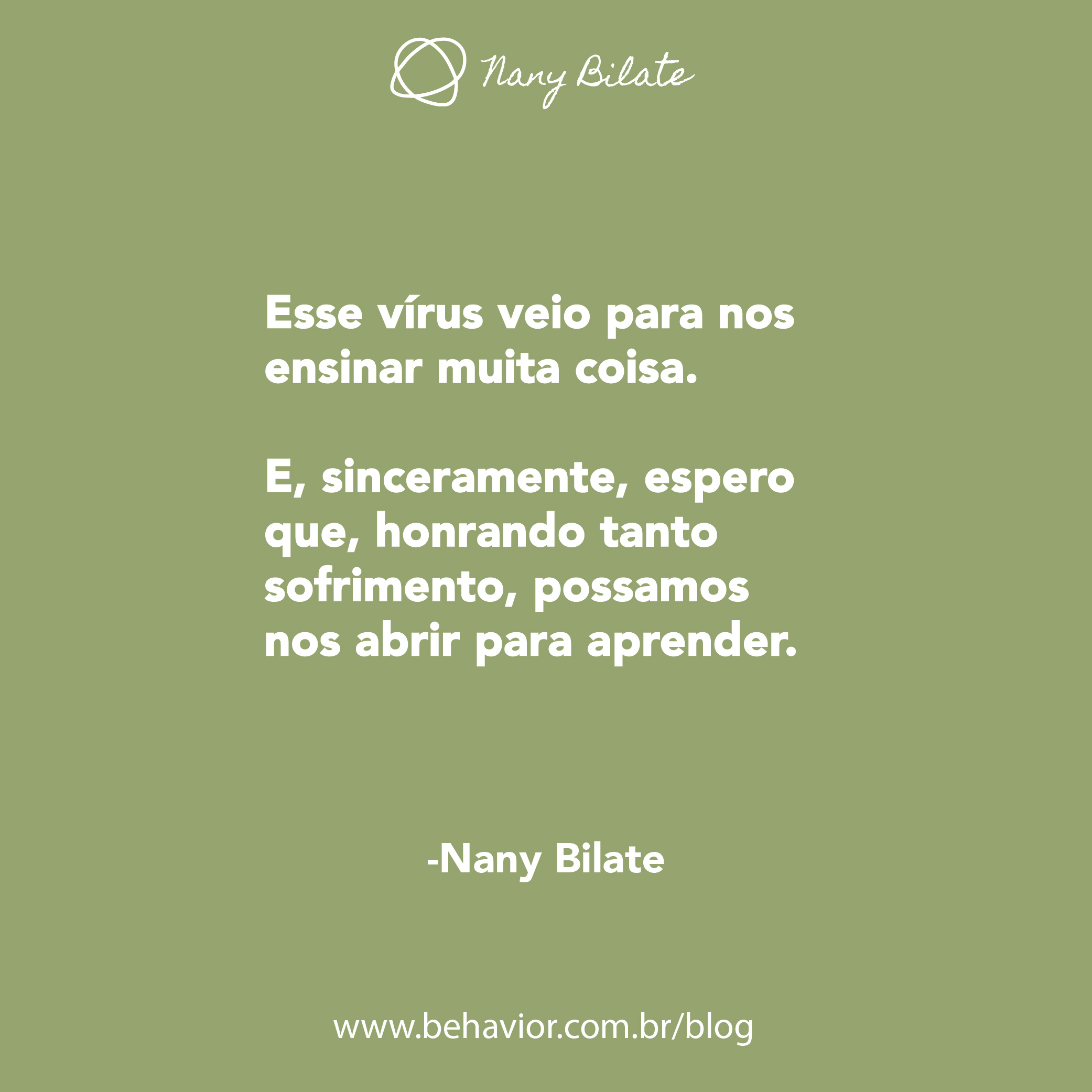


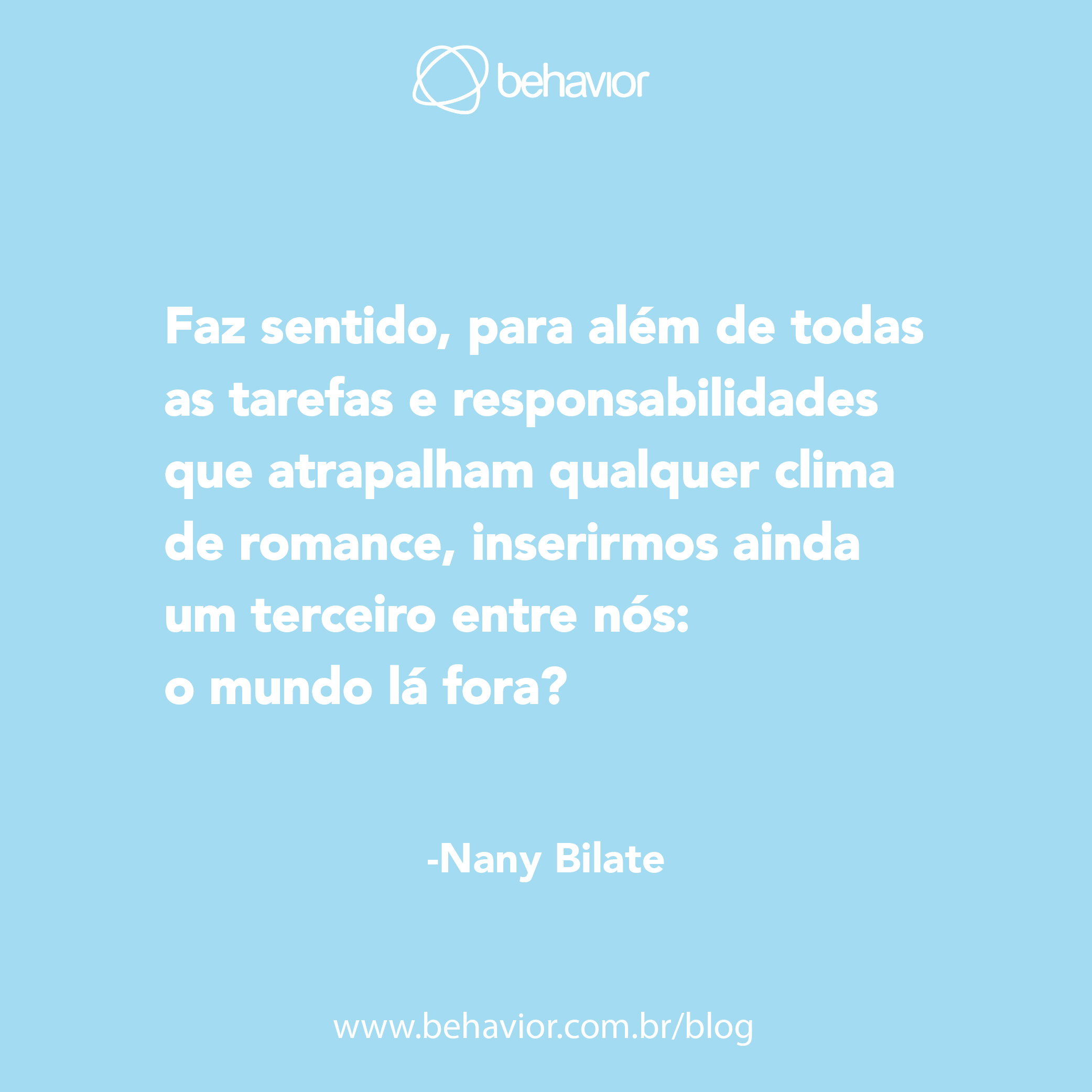



0 Comments
Leave A Comment