Este texto é, de certa forma, uma continuação do texto “Por que não fazemos a mudança que nossa alma deseja?” e quem sabe, um guia para quem quer continuar compreendendo mais de si e de seu entorno. Acredito que esta sequência não planejada, que nasceu da observação dos Movimentos Humanos desde que escrevi o primeiro texto, há dois anos, pode contribuir com o entendimento para responder a mesma pergunta.
Quando escrevi a primeira vez sobre o Movimento Humano, A Destruturação, as rupturas com crenças históricas que fomos construindo por séculos e que mantinham, tal como estruturas, a ordem social, estava evidente. Não era necessário ser um estudioso em ciências humanas para perceber que o mundo estava em outra direção. Bastava ter curiosidade sobre a vida e a sociedade.
Eram tempos que cheiravam a renovação. A ciência, ao trazer à luz novos conhecimentos, contestava conceitos que até então eram verdades e que regeram todo um sistema de crenças amplamente cristalizado. Sistema que estávamos dispostos a romper. O homem, num momento de prosperidade econômica, dirigia sua atenção ao seu interior na compreensão que talvez estivesse ali, o seu grande sentido de felicidade. Buscava despegar-se de modelos externos para encontrar caminhos mais genuínos.
Parecia que o mundo tinha se tornado progressista – vale o deixar claro, que utilizo a palavra no significado básico, isto é, alguém favorável ao progresso, ao avanço, a mudança; sem viés político. Esse caminhar teve como origem comum, o rever a nossa história. Novamente, a ciência ao mostrar, por exemplo, que o homem era mais antigo do que se pensava. Que terras tinham sido povoadas muito antes do que a história confirmava; permitiu que outras possibilidades surgissem. Decidimos ampliar a nossa história. Trazer novos atores às narrativas que tinham sendo construídas até então. Narrativas que, entendemos na época, tinham sido parciais para manter uma história contada só pelo lado dominante. Queríamos mais. Queríamos expansão.
A crise econômica se instalou. Com ela, a crise política. Uma nova ética – valores internos, individuais – emergia à medida que novas narrativas iam sendo criadas. Novos atores iam sendo incorporados que foram dando forma a um mundo mais amplo e, por isso, desconhecido. Nesse momento, excessos, comuns quando o terreno não é conhecido, aconteceram. Alguns, originados por anos de repressão. Ao invés de arejar e trazer novas possibilidades, estes excessos alimentaram o medo do descontrole. A vinda à tona, de uma moral corroída que era um dos pilares da ordem anterior; por vir a luz, parecia nova. Poucos compreenderam que o momento só mostrava o que há muitos séculos existia.
A resposta ao medo pela desordem, típica ao caos da criação do novo, foi o apelo por uma ordem moral – valores sociais, que regem todos. Eficiente por atingir pessoas do bem, que nem sempre estão preparadas, dado o alto grau de complexidade envolvida, para avaliar com lucidez a situação social. Pessoas que se autoproclamam cuidadoras da ordem moral familiar e, por que não, social; apelaram para a rápida solução de usar modelos antigos que serviram como repressores com o intuito de restabelecer a chamada ordem social.
Por que apoiamos voltar a modelos anteriores quando tínhamos decidido que eles não nos serviam mais? Quando sabemos que eles representavam fronteiras e separação, nos afastando da liberdade e fluidez que nossa alma tanto almejava? Para os possíveis críticos do envolvimento maioritário digo: sim era a maioria porque se não, o movimento de mudança não tivesse acontecido. Simples assim.
Um caminho que pode ajudar a compreender porque recuamos é entender que a crise econômica mexe com nossa coragem em criar. Mesmo que isso signifique abrir mão daquilo que considerávamos que iria nos deixar mais feliz. O medo da escassez nós deixa focados em resolver, em agir. Nos tira do estágio da expansão, da tentativa. Pensamos que não podemos errar. Que não devemos errar. Podemos ainda refletir que quando as sombras da possível escassez, pairam no nosso céu, a felicidade deixa de ser tão relevante assim para cada um de nós. Como se ela só fosse possível num estado mais elevado de consciência. Estado que, acreditamos, não seja possível enquanto estamos na luta para sair da possível escassez. Será então que, lá no fundo do nosso ser, acreditamos que ela não existe de verdade? E que em tempos de possível escassez, não é maduro sonhar com algo irreal?
Em tempos de escassez também nossa identidade se torna defesa. O status quo (no texto anterior explico o que é e como opera neste contexto) ao qual ela está relacionada torna-se relevante. Preciso de muralhas para me defender. As muralhas vêm do medo. Não da paz. Muito menos de um estado de felicidade. Para que nossa identidade, e o status quo relacionado a ela, tenha menos valor; precisamos compreender que a liberdade de sair do espaço restrito que todo status impõe, representa romper com o conjunto, com a bolha que ele cria para operar. E que esse rompimento não significa ficar só. Devemos, quanto antes, se quisermos voltar a ter coragem para reiniciar o caminho da felicidade em nossas vidas, entender que o medo em ficar só é uma ilusão. Ilusão que alimenta uma outra: a ideia de não estarmos sós só pelo fato de ficar dentro da bolha do status quo que não nos faz feliz.
Podemos compreender que o caminho da individuação, tão bem construído por Carl Jung, é só uma volta à nossa essência e um distanciamento do que é social em nós. E que quando isso acontece, íntegros, podemos voltar e fluir no ambiente social. Nas bolhas que escolhermos entrar, ficar, permanecer ou ser só eventuais visitantes. Que a partir desse estado de integralidade podemos ajudar a compor uma sociedade mais livre, fluida e, provavelmente, mais próxima do que acreditamos, ser o estado de felicidade.

Nany Bilate é pensadora intuitiva e pesquisadora. Seus estudos e textos são focados na transição de valores e crenças da nossa sociedade. E sua interferência nas identidades feminina e masculina contemporâneas.




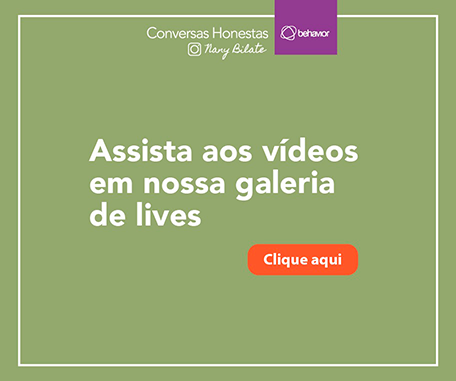
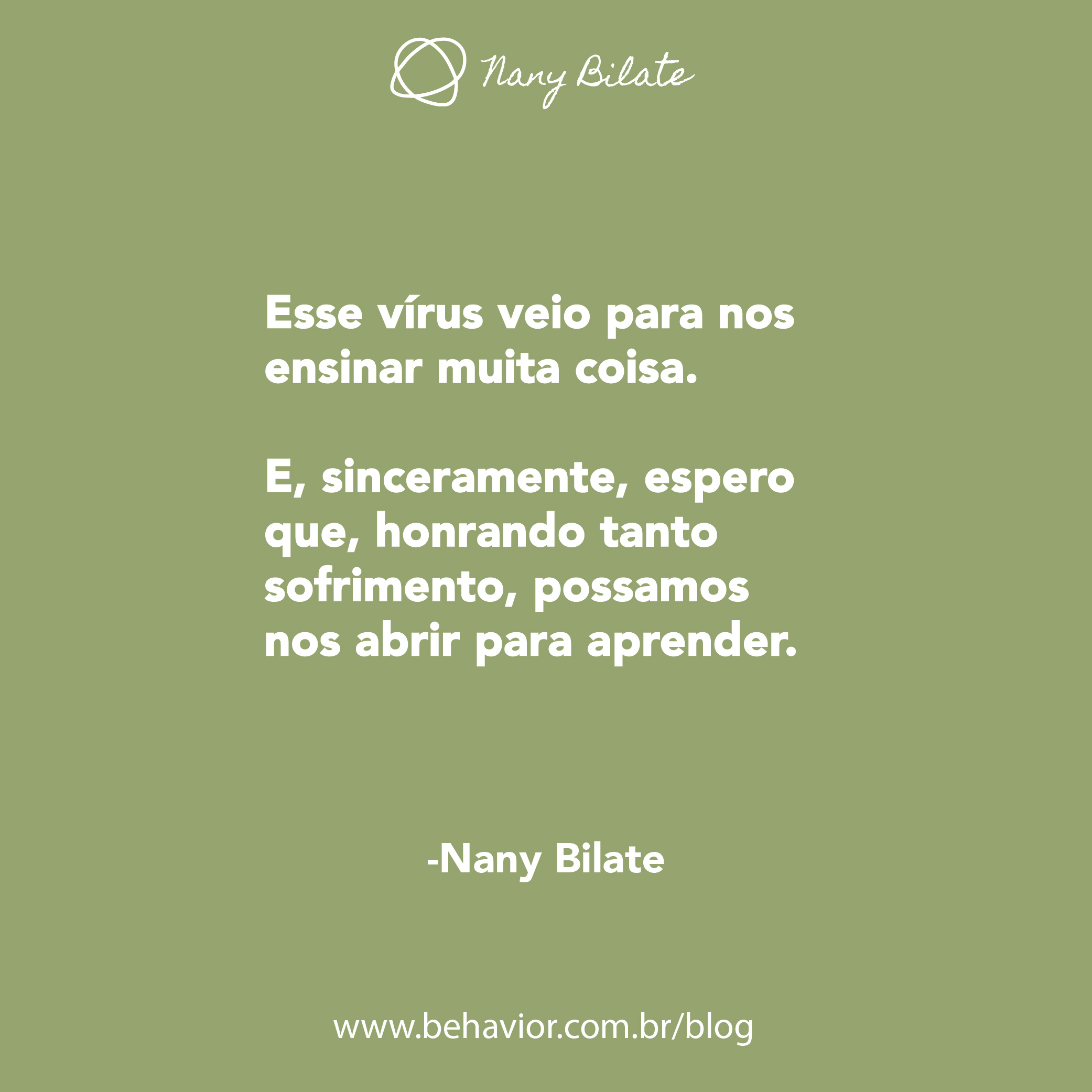


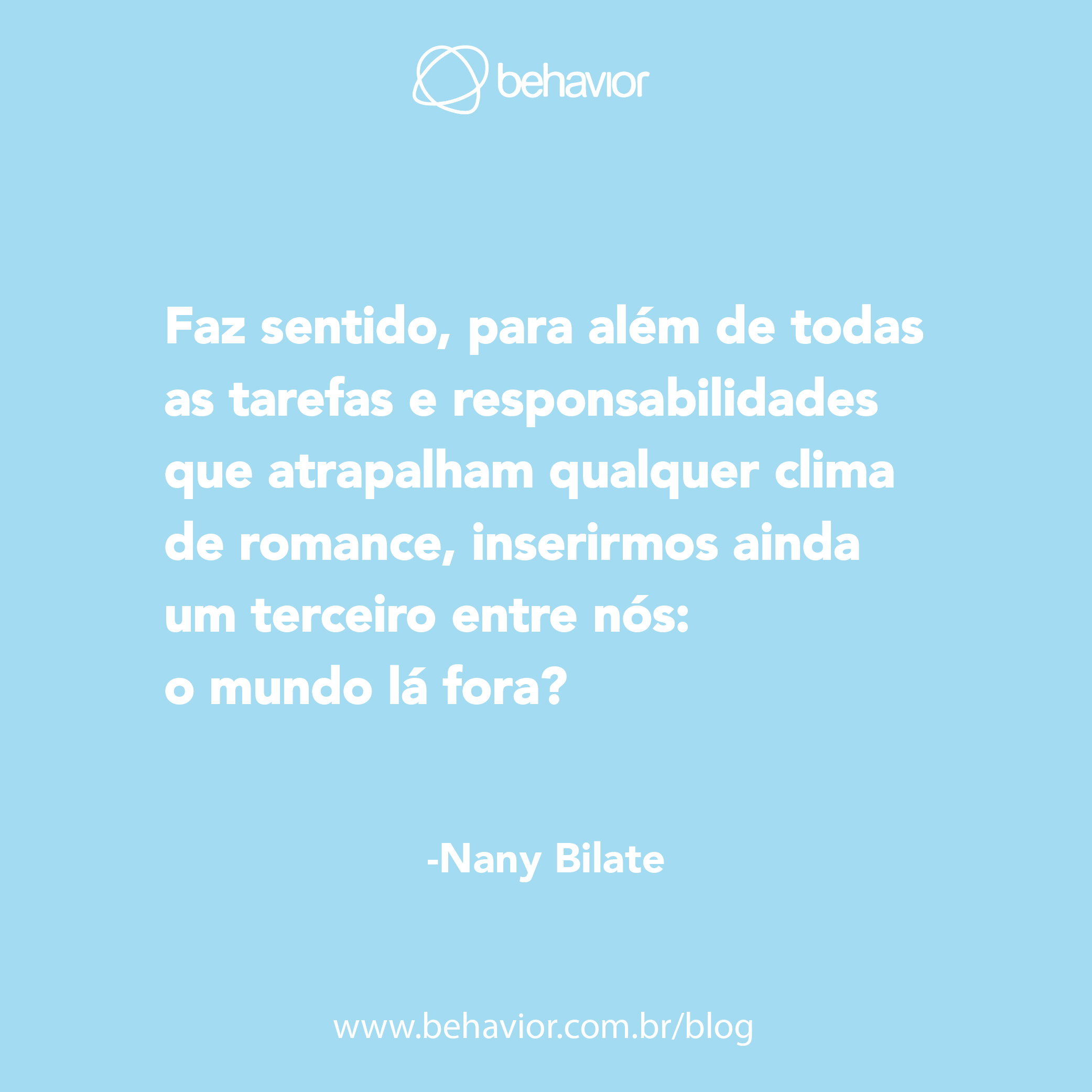



0 Comments
Leave A Comment